De quem é a culpa pelo estado da Igreja?
Reflexões sobre a morte de Francisco e o próximo pontífice
Era um dia em que o céu estava azul, as nuvens pareciam bolas de algodão e os pássaros cantavam. Um dia perfeito para se andar pelas ruas perto da Ponte das Correntes, que liga Buda a Peste, as duas cidades que juntas formam a capital da Hungria.
Enquanto via os prédios seculares da região, que unem o paradoxo da austeridade com o do aconchego, notou que as forças de segurança começavam a isolar as ruas perto da avenida. Lá vem ele de novo, pensou. E como passava o tempo, resolveu passá-lo esperando-o passar. Quem passava agora? Era o tempo ou aquele que vinha? Os dois. Quem vinha era o espírito do tempo que o homem queria que passasse.
O homem chegou cedo o suficiente para ficar próximo à faixa de isolamento. Estava bem do lado asfalto da avenida. Primeiro vieram os batedores de moto. Logo em seguida, os carros da equipe de segurança, todos pretos e solenes. E, enfim, o carro com o homem.
«Ele estava sentado do meu lado da avenida», disse o nosso narrador, lembrando-se daquele dia anos depois. «Ele estava olhando para o meu lado da calçada, e enquanto abençoava a multidão me fitou bem nos meus olhos. Imediatamente, um raio de otimismo tomou conta de mim e me senti bem pelo resto do dia.»
Que coisa estranha era aquela para o homem narrando essa história. O homem que o fitou e que fez a avenida e as ruas derredor serem isoladas era Sua Santidade, Francisco (1936–2025).
Que coisa estranha deve ser para nós. O homem narrando a história é John B. Morgan, neopagão e um dos fundadores da editora Arktos.
Morgan ficou chocado. Não é por ele ser neopagão que ele estranhou essa sensação de boas coisas dentro de si ao ver o sumo pontífice da Igreja Católica. É que era Francisco o pontífice em questão. A não ser que você se informe somente pelo que a mídia tradicional fala sobre Francisco, não causará espécie a estranheza de Morgan por esse pontífice causar tão boas sensações.
Procurando entender o porquê daquelas sensações, Morgan perguntou para alguns dos seus amigos católicos franceses. «Acho improvável que um homem como Bergoglio seja capaz de causar diretamente efeitos espirituais benfazejos», disse. Como resposta, ouviu que apesar de Francisco não ser um bom praticante da sua religião, milhões de bons católicos rezavam por ele diariamente. Muito provavelmente, era isso o que causava essa irradiação divina vinda dele.
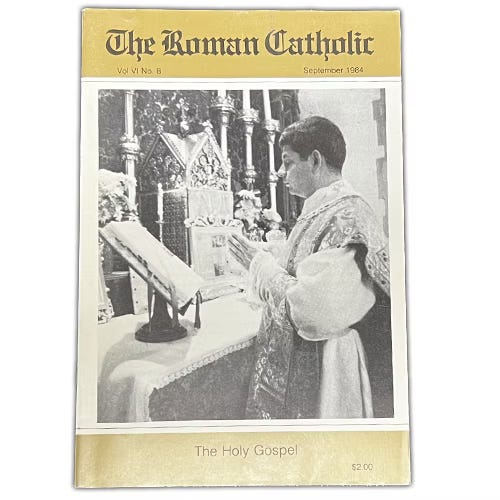
Conto essa história porque ela me parece uma boa forma de pensar no mistério que Deus impôs à Igreja. Francisco não foi senão a conseqüência desse grande mistério que é a Igreja pós-Concílio Vaticano II. Apenas aqueles que por uma ou outra razão —digamos, foram criados dentro das Comunidades Eclesiais de Base, dentro de paróquias verdadeiramente progressistas desde a mais tenra infância, ou cresceram realmente no seio do aggiornamento, em especial no seu auge, que digo ter sido entre 1970 e 2004— podem com toda e convicta razão dizer: O concílio foi um sucesso! O resto do mundo católico não pode dizer o mesmo com toda certeza.
Pois sim: Francisco, o pontífice morto há pouco mais de duas semanas, foi o péssimo pontífice de um péssimo momento da Igreja. Mas ele era o pontífice da Igreja. Uma Igreja que, com uma péssima missa, péssimo trabalho pastoral, péssimo padrão missionário, ainda é o depósito da fé de Cristo. Mesmo na pior Missa, com a mais incômoda guitarra e a mais estridente bateria, realiza, sempre ao final do cânon, o milagre da transubstanciação. Milagre celebrado (ou «presidido», per o vocabulário conciliar) pelas mãos dum padre que sabe-se lá quais horrendos pecados deve ter cometido.
Desde a morte de Francisco, no último dia 21, que tenho pensado sobre o que a Igreja está passando e por qual calvário, se for o caso, ela ainda terá de passar. Não deve ter escapado a ninguém o significado profundo da data da morte de Francisco: segunda-feira da oitava da Páscoa, uma das únicas duas sobreviventes das reformas do século XX. A outra é a oitava de Natal. E essas duas só não devem ter sido derrubadas, como foram as oitavas de Pentecostes, da Epifania, de Corpus Christi e de tantas outras, porque são as festas mais importantes do calendário litúrgico romano.
E aqui chegamos à angústia mais profunda e dolorosa de qualquer católico que não se alinhe com o momento da Igreja desde os anos 1960. De novo: Quem pode se dizer feliz com os resultados do Concílio Vaticano II? Muitas vezes se lê por aí que se demora no mínimo cem anos para se ver o resultado de um concílio. Neste ano de 2025 se farão sessenta desde o encerramento daquele convocado por João XXIII e eu acho que o júri já tem o veredito nas mãos: os efeitos são ruins e ninguém está feliz.
A razão dessa infelicidade é clara. Para a maioria, em especial os mais jovens, a Igreja antes das reformas era altiva, imperial, triunfal, severa e ordenada. A forma da Igreja refletia a realeza de Cristo. A modernização proposta por Paulo VI, que foi quem concluiu os trabalhos do concílio após a morte de João XXIII, é uma Igreja que corresponde aos perfeitos antônimos dos adjetivos que acabei de usar. E a sensação geral para quem lê e imagina o que era participar da Igreja Católica antes de 1962, quando o concílio se iniciou, é de que algo nos foi roubado.
A vitória de D. Hélder Câmara
Como a liturgia é o elemento mais patente das transformações conciliares, não surpreende que ela receba tanta atenção. Aliás, parece que todo o esforço dos opositores ao «espírito do Vaticano II», como o problema é conhecido, se concentra nisso. Eu sei, eu sei: lex orandi, lex credendi. A lei que se reza é a lei que se crê. Se a Igreja reza com uma liturgia que permite bateria, guitarra, palminhas e ritmo de polca, bolero e forró na Missa. D. Hélder Câmara quis transformar a Missa em gafieira gótica, falava Nelson Rodrigues para quem quisesse ouvir em 1968. Mas o que dizia D. Hélder? «Por que apenas as guitarras e os címbalos podem louvar a Deus e não o reco-reco, a cuíca e o tamborim?”»[1] Nessas crônicas, Nelson falava do espanto que sentia que as declarações do arcebispo passassem sem a menor espécie. « Hoje, achamos perfeitamente normal que se instale a vida eterna numa gafieira. [... D.] Hélder não espantou ninguém. Não houve escândalo, ninguém arrancou os cabelos etc. etc.» («Os Dráculas, O Globo (RJ), 5 abr. 1968).
E D. Hélder venceu. A Missa, no mais geral dos casos, e em especial aqui na nossa taba latino-americana, é do jeito que ele queria. Não com reco-reco e tamborim, mas com um teclado Casio de oito funções e sessenta e seis teclas. Tadinhos de nós, somos tão pobres que nem um teclado de oitenta e oito teclas podemos comprar: nem o errado podemos fazer certo.
A vitória de D. Hélder é, claro, a vitória do espírito do concílio. E os mais jovens olham e imaginam: Como isso pôde acontecer? Vêem as fotos das Igrejas nos anos 40 e 50 e pensam: Por que não posso a ir a uma Missa assim? E vêem a história e dizem: O Concílio Vaticano II é culpado. A mudança veio dele e é ele que precisamos derrubar. Porque não há continuidade. Nesta catedral que freqüento me roubaram a história: o que vejo ali no altar não é o que quem construiu esta igreja via. Eu mesmo já senti isso, como escrevi aqui. Quando morava em Teresina, eu ia à Igreja de N. Sra. do Amparo, no Centro da cidade. É a igreja matriz de Teresina: e a sua primeira Missa foi celebrada no Natal de 1852, pelo Pe. Mamede Antônio de Lima. No Natal de 2022, lá estava o Pe. José de Pinho, celebrando o Natal. A mesma festa, mas não os mesmos gestos, porque não a mesma liturgia.
O que me deixa muito triste. E o que deixa muitos tristes.
E aí se perguntam: Quem dos cardeais pode resolver isso?
O negão! Pelo negão!
E olham e vêem: ali, pega o africano! É o cardeal negão.
Sim, sim! O negão é conservador. Eu quero o cardeal africano. Eu quero o Cardeal Robert Sarah para ser o novo papa. E eu quero que ele faça como o Jude Law naquela série e se chame de Pio XIII. Rá! É isso, demos uma na cara dos modernistas. Só falta ele aparecer na sacada do Palácio Apostólico e diga ao mundo: —O Concílio Vaticano II acabou! O ultramontanismo está de volta à ação! E todos aplaudem, alguns cardeais ficam pálidos, os jovens se emocionam e do alto dos céus a alma do Pe. Anthony Cekada abençoa a todos e sopra nos ouvidos de todos os sedevacantistas do mundo: —Habemus papam.
Corta. Eu acordo.
Como qualquer outro, eu me lamento e me amaldiçôo por ter nascido numa época em que a Missa de S. Pio V, a famosa «Missa tridentina», é marginalizada. E me lamento por hoje morar a quatro horas de distância da Missa tridentina regular mais próxima (a despeito de que aqui onde moro existe uma capela associada à FSSPX, mas não participo mais dessas coisas; justificativa numa próxima edição da newsletter).
Por outro lado, me alegro por viver numa época em que essa liturgia é marginalizada e não proibida, como fora de 1970 a 1988.
De qualquer modo, penso que é um erro pensar que a questão litúrgica seja a mais importante.
Acho que eleger o Cardeal Sarah seria um grande erro.
Talkin’ the Concílio Vaticano II blues
Queria deixar primeiro de lado as razões imediatas de falar isso aí (e espero ter irritado muita gente).
É que eu tenho a impressão de que as pessoas raciocinam os evidentes problemas da Igreja pós-conciliar de maneira errada. Pensam primeiro nas questões próximas em vez de pensar nas questões de fundo.
Case in point: O Concílio Vaticano II é horrível? Claro que sim. Foi feito para ser. É óbvio que ele é uma pacificação de diferentes facções da Igreja. Como uma bola ou coisa pior, pode-se fazer o que bem se entender com seus documentos; podemos passá-los daqui para lá e de lá para cá, ao sabor da conveniência, graças às suas ambigüidades e opacidades. De modo que já que os papas e príncipes da Igreja desde 1965 foram todos alinhados com a proposta de reforma (o que inclui, sim, Bento XVI), a interpretação do concílio foi sempre a pior possível.
E se considerarmos que essa aplicação foi no espírito:
do humanismo
do ecumenismo
do pacifismo
da liberalidade
do cientificismo
do historicismo
da democratização
e de outras doutrinas e modismos dos anos 1960, deve ser lógico que o Concílio Vaticano II é obra de um tempo e de um lugar. De certas «intenções», vamos dizer assim.
Trocando em miúdos: o Concílio Vaticano II é obra dos anos 1960.
E eu creio que o mundo dos anos 1960 está chegando ao fim.
O filho parricida
Os anos 1960 foram o ápice do projeto ocidental. Sem dúvida nenhuma, a despeito da Guerra Fria, quando o concílio começou ainda não havia acontecido os traumas do assassinato de John F. Kennedy e outras vergonhas que fariam o espírito de reforma e otimismo da década afundarem como um navio sem esperanças.
E esse espírito, era precisamente o espírito ocidental. Um espírito contrário ao da Igreja. Já argumentei outras vezes: a Igreja não pertence ao Ocidente, mas sim ao mundo todo. Mas se de fato a Igreja e a religião ajudaram a arar o solo pagão da Europa para transformá-la numa potência, então essa potência é cristã, religiosa, e não geográfica, «ocidental». É erro, como já falei vezes, falar em «civilização ocidental», «Ocidente» e termos que vão nesse sentido. O que existe e que é gerado pelo Catolicismo é a Cristandade. O Ocidente, essa coisa grotesca que liberais brasileiros tanto defendem, é o filho deformado e parricida da Cristandade.
E foi esse filho parricida quem se apossou do Concílio Vaticano II. Mas vejam: o problema vem de antes. Ele já estava na Igreja nos anos 1950, quando Pio XII mexeu na liturgia em 1955, quando passou o novo Calendário Geral Romano (Decreto Cum nostra hac ætate, AAS XLVII, pp. 218–224). Naquele ano, fez algo que nem o Concílio Vaticano II faria: dinamitou quinze das dezoito oitavas do ano. Sobraram a da Epifania, Páscoa e Natal. Foi o concílio quem derrubou a da Epifania, mas o resto do trabalho estava feito. Isso é muito mais significativo do que as reformas da liturgia da Semana Santa, que permitiram a bênção das palmas versus populum. Isso foi só a cereja do bolo[2].
Esse filho parricida também já se movia na eleição do sucessor do Papa Pio XII. Acho que está provado acima de qualquer suspeita que houve duas eleições em 1958: uma que elegeu o Cardeal Giuseppe Siri, que chegou a escolher seu nome papal (Gregório XVII), e outra que escolheu Angelo Roncalli, o Papa João XXIII. Há diversas evidências de que não apenas a CIA tinha documentação a respeito das inclinações modernistas —e sem dúvidas úteis para o projeto do «mundo livre» encabeçado pelos Estados Unidos— mas que também queria embargar de qualquer forma a eleição do Cardeal Siri ao trono petrino. Há um telegrama do embaixador americano na Itália, James David Zellerbach, em que sua «fonte» diz que «a eleição de Siri, Ruffini, Ottaviani seria “desgraça para a Igreja”». Veja o fac-símile do documento abaixo.
Assim, eu penso que muito mais importante do que qualquer reforma —ou melhor, restauração— litúrgica, o próximo papa deve resgatar o papel doutrinador da Igreja no mundo.
Eu sei muito bem, não precisa ficar vermelho, do adágio lex orandi, lex credendi. As pessoas que o utilizam é que não sabem o que ele significa. A liturgia em si, seus «adornos», por assim dizer, não objetos secundários de infalibilidade. Ela ser em latim ou em vernáculo importa menos do que o cânon (o que hoje se conhece como «oração eucarística»), digamos, estar livre de erros.
O conhecido axioma Lex orandi est lex credendi (A lei da oração é a lei da crença) é uma aplicação especial da doutrina da infalibilidade da Igreja em questões disciplinares. O que esse axioma diz com efeito é que as fórmulas de oração aprovadas para uso público na Igreja universal não podem conter erros contra a fé ou a moral. (G. Van Noord, Dogmatic Theology, vol. 2: Christ’s Church, tr. John J. Castelot e William R. Murphy, Westminster, Md., Newman, 1959, p. 116)
Afinal de contas, quando o verdadeiro arquiteto das reformas litúrgicas dos anos 1960 se pôs a trabalhar, o Mons. Annibale Bugnini —conhecido na Marçonaria de que era irmão como «Buan»—, a Missa não era a de S. Pio V? Liturgia por liturgia, até Paulo VI reprovava o rito novo: consta que ao saber que o Monsenhor Bugnini mandara imprimir a Instrução Geral onde descrevia a Missa como uma «refeição, um memorial, um encontro dos fiéis» sem sua autorização, o papa chorou «de vergonha e raiva». O processo de estabelecimento do novo rito foi bem mais laborioso do que se imagina. Fosse o Mons. Bugnini menos esparto e de mais sangue quente, talvez o rito que hoje conheceimos fosse bem diverso. Sabemos que era do desejo de Paulo VI que a Congregação dos Ritos fosse consultada e desse seu parecer sobre a liturgia e a nova Instrução Geral. Sabemos também que Paulo VI pleiteou em pessoa a manutenção do Evangelho Final (a leitura do prefácio do Evangelho de S. João), mas foi ignorado[3]. Havia um homem com um ímpeto, o espírito do tempo e provavelmente dos comandantes desse mesmo tempo. Annibale Bugnini.
Por isso tudo, acho que Robert Sarah não deve ser eleito. É preciso de alguém que saiba que o posicionamento da Igreja vem antes da forma da liturgia.
E é por isso que no conclave que começa amanhã, rezo, oro e torço para a eleição do Cardeal Pierbattista Pizzaballa.
[1] O Jornal (RJ), 31 mar. 1968, 3.º caderno, p. 1. Por «guitarras» imagino que o então arcebispo de Olinda se referia à viola ou a outros cordofones menores. Veja-se Bento XIV, Encíclica Annus qui hunc, 19 fev. 1749, §11: «[...] Vossa Fraternidade, caso em vossas igrejas tenha sido introduzido o uso de instrumentos musicais, não permita, juntamente com o órgão, nenhum outro instrumento, exceto a cítara de quatro cordas maior, a cítara de quatro cordas menor, a flauta pneumática de tubo único, pequenos instrumentos de cordas e liras de quatro cordas, pois estes instrumentos servem para reforçar e sustentar as vozes dos cantores. Deverá, no entanto, proibir os tímpanos, cornos de caça, trombetas, flautas grandes, flautas comuns, flautins, saltérios sinfônicos, harpas ou violoncelos, e outros instrumentos do mesmo tipo, que conferem à música um caráter teatral.» De forma que a viola clássica pode, mas o violão, não. E muito menos o reco-reco.
[2] E sim, eu sei que a Missa de Núpcias pré-Vaticano II pode ser inteiramente celebrada versus populum (veja-se aqui). Mas (1) isso quase nunca é feito e (2) é um costume que precede até mesmo o Concílio de Trento.
[3] Sobre o papa chorar: Henry Sire, Phoenix from the Ashes, Kettering, Ohio, Angelico, 2015, cap. XI, Michael Davies, Pope Paul’s New Mass, Kansas City, Angelus, 2009, cap. XXIV, e La Pensée catholique, May 1978, p. 80. Sobre o Evangelho Final, veja-se Yves Chiron, Annibale Bugnini: Reformer of the Liturgy, tr. John Peping, New York, Angelico, 2018, p. 134. Note-se que Paulo VI já tinha, contudo, removido o Evangelho Final da «missa transacional» em 1964 (Documento Inter Œcumeni, 7 mar. 1965, cap. II, j.)







